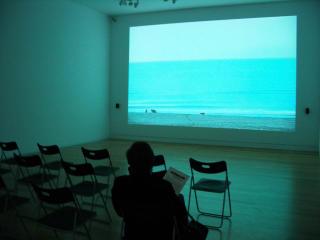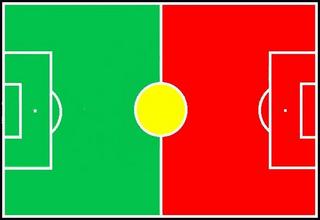Quem quer fazer um documentário e precisa de arranjar dinheiro para pôr a trabalhar a equipa e o equipamento, tem a possibilidade de concorrer a um pitching – uma espécie de prova oral em que o produtor e/ou o realizador defendem o seu projecto de filme perante um painel de comissários-editores representantes de vários canais de televisão, eventualmente compradores.
Como em qualquer exame, eles devem trazer o discurso na ponta da língua, para aproveitar os 10 ou 15 minutos concedidos, ter resposta pronta para as perguntas que serão feitas e saber justificar sucinta e convincentemente o projecto tanto em termos artísticos, como comunicativos, como financeiros. Pode dizer-se que não é fácil.
Um pitching é afinal uma reunião de pré-venda com exposição pública, a feira do relógio dos documentários, que todos os anos, desde 1998, se realiza em Lisboa organizado pela EDN (European Documentary Network) e a Apordoc. São os Lisbon Docs, geralmente associados ao festival DocLisboa. Este ano estiveram presentes 14 projectos de documentário, 5 dos quais portugueses, e 10 representantes das televisões, a saber: ARTE Thema (França), ZDF/ARTE (Alemanha), AVRO (Holanda), TVC (Espanha), NPS (Holanda), SVT (Suécia), TSR (?), RTP1, RTP 2: e FFF (Finnish Film Foundation).
Por outras palavras, o pitching é um espectáculo organizado como um concurso televisivo, onde há os que são avaliados e há os que opinam sobre as fraquezas e méritos dos filmes candidatos. O jogo seria equilibrado se houvesse da parte dos commissioning editors (representantes das televisões) alguma obrigação. Se trouxessem algum dinheiro para aplicar no filme que mais os interessasse. Se tivessem margem de negociação. Mas não têm. Eles vêm só participar no espectáculo, viajar, ver uns filmes (o trabalho deles é escolher filmes) e dizer sempre o mesmo: “não estou a ver como é que a ideia vai ser posta em prática”; “já temos muitos filmes sobre o Brasil”; “não encaixa nos nossos slots”; “não mostramos filmes políticos”; “não vejo como se pode enquadrar os nossos slots de social issues ou de current affairs”; “o orçamento é muito caro”; e a maior parte das vezes dizem “quando estiver feito, gostava de ver”. Ou seja, não só demonstram a sua incapacidade de visualizar o que possa vir a ser um filme, como não se comprometem nunca. Ou melhor, iludem a sua falta de poder decisório com argumentos fingidos de experiência profissional.
É raro, nesta fase, apoiarem financeiramente um projecto, e quando o fazem, mais tarde, querem controlar todas as fases de produção e fazem exigências na montagem: meter voz off, tirar este plano ou aquela personagem, introduzir mais qualquer coisa. É o modelo americano – espalhando metásteses na Europa - em que o produtor-financiador é quem manda no produto final - em nome de conhecer melhor o meio e as audiências, i.e., o que dá mais dinheiro. Na prática, considero que se trata de um esquema humilhante. Enquanto os produtores/realizadores dão o seu melhor (depois de terem sido já pré-seleccionados), os juízes desdenham.
Tanto esforço para quê? Saberíamos para quê se a EDN ou a Apordoc revelassem números relativos aos filmes apoiados por este método. Na falta de dados, suspeito que é uma boa maneira de arrebanhar clientes na massa crescente de documentaristas novatos.
Não sou contra as televisões nem os mercados. Mas se são tão selectivos e exigentes, porque não abrem eles concurso para propostas sobre certos temas e assuntos? É porque, lá nos seus bureaux, ligados à internet e aos media, eles não podem saber o que se passa no mundo da vida e estão carentes de novidades, de preferência emocionantes, com mais sangue e mais lágrimas. Então, com o seu enfado de burocratas, aproveitam os pitchings para avaliar as tendências da moda e roubar algumas ideias, qual vampiros da programação.
Os realizadores têm, no entanto, outros objectivos. Geralmente têm algo a dizer sobre a realidade que presenciam, têm uma forma de olhar pessoal e única e um assunto circunstancial e irrepetível. Têm o desejo de testemunhar, de reflectir e de exprimir pontos de vista, por este meio que é o das imagens. Mas só podem fazê-lo se forem livres de o manifestar - e aceites e respeitados como tal.
No meu entendimento, fazer documentários é uma questão de liberdade de expressão – e não pode ser controlada por agentes exteriores. As normas de televisão, a mentalidade burocrática e economicista são um outro mundo, com o qual tentamos relacionar-nos, se calhar em vão.
Já há 6 anos pensava mais ou menos assim:
http://www.akademia.ubi.pt/jornal_docLeonorAreal.htm
Aqui podem ler a opinião de Mariana Otero sobre os "novos falsários do documentário" : http://www.akademia.ubi.pt/jornal_docMarianaOtero.htm
E mais um texto de balanço sobre um pitching na Grécia: http://www.filmfestival.gr/docfestival/2004a/pitching.html