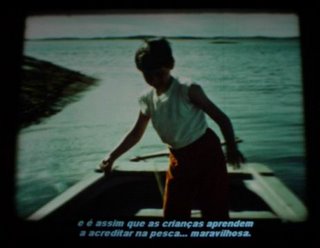Será o documentário um género cinematográfico? (1) Não o considero como um género (2), mas antes como um campo, uma área vasta da criação cinematográfica. Diria que o território do cinema tem dois grandes campos: a ficção e o documentário (além de outras zonas, que incluem, por exemplo, o cinema experimental ou a videoarte); ficção e documentário são áreas razoavelmente diferenciadas, mas com fronteiras incertas e continuamente atravessadas de objectos cinematográficos híbridos. São tendências, que podem radicalizar-se e mutuamente opôr-se ou podem também coincidir num mesma obra fílmica.
É consensual que toda a ficção tem algo de documental e todo o documentário tem algo de ficcional. Isso porque entendemos por “documental” o que remete para um referente exterior e pré-existente, e por “ficcional” o que remete para uma construção autónoma, anterior ou posterior. As ficções são construções imaginárias mas têm de documental o pressuporem situações e espaços do real; enquanto os documentários são também construções mentais mas a partir de situações dadas do real. É uma diferença de grau, portanto, visto que há sempre uma base de real (documental) sobre a qual se constrói uma história (ficcional).
Discordo de todo da diferenciação geral feita por alguns (3) entre ficção e não-ficção. Um filme “híbrido” – por exemplo, o recente e extraordinário
Pavee Lackeen (
The Traveller Girl) de Perry Ogden, mostrado no IndieLisboa - não pode simultaneamente ser ficção e não-ficção, visto que a segunda categoria anula a primeira. Estas definições inter-exclusivas não são sustentáveis na teoria do cinema, quanto mais na sua prática.
Dentro do campo do documentário haverá géneros (biográfico, social, observacional, ensaístico, diarístico, etc. o que mais quiserem), tal como no campo da ficção os há (comédia, policial, aventura, fantástico, melodrama, etc. e tantos mais). Os géneros são uma comodidade, uma forma de arrumar os filmes por aproximação e semelhança, uma forma de antecipação para os espectadores, talvez; mas o género dum filme não deve ser tomado como sua definição enquanto obra singular. O filme não tem de ter um género, assim como não tem que pertencer à ficção nem à não-ficção nem ao não-documentário. Um filme é o que é.
Apesar de tudo existem diferenças que nos permitem perceber qual a tendência dominante de um filme. Para mim, a diferença essencial entre ficção e documentário está em que na ficção as personagens são desempenhadas por actores (tanto faz se profissionais ou não), enquanto no documentário as personagens estão a representar o seu próprio papel como pessoas (4). O segundo critério, menos decisivo, será o grau de encenação de uma cena. Mas há muitas outras diferenças, evidentemente. Por último, as opções da montagem e da narrativa serão o factor mais subtil e onde é mais difícil identificar as diferenças.
No caso misto de Pavee Lackeen, acontece que temos actores não profissionais a desempenhar o seu próprio papel, personagens-de-si-mesmos, mas segundo um guião e situações criadas – uma fusão dos dois registos portanto, o que não me parece que diminua em nada o interesse, o efeito e a qualidade do filme. Mas pode gerar
confusão, porque, no fundo, existe uma espécie de contrato implícito com o espectador acerca do estatuto de verdade de um filme: se a história é inventada, o espectador dispõe-se a aceitar o faz-de-conta (a “suspensão da descrença”); se a história é real, o espectador dispõe-se a acreditar nela. Está na altura de o Espectador fazer uma evolução e dispôr-se a aceitar que toda a ficção tem a sua verdade e todo o documentário as suas mentiras, manipulações e invenções.
O estatuto de verdade de um filme – em cada cena, cada imagem ou cada representação - é algo de mutável e em constante remodelação. Para certos teóricos do cinema, não é possível aferir esse estatuto e essa verdade apenas através das características formais e estilísticas ou das marcações genéricas e narrativas de um filme – características que o documentário e a ficção partilham. Não penso assim. Acho, pelo contrário, que quase sempre é possível aferir da situação mais ou menos verosímil que estamos a presenciar: o espectador treinado (ou com literacia) tem meios para decidir, se quiser, sobre o carácter mais-ficcional ou menos-ficcional de um filme.
Por exemplo, na primeira cena de Pavee Lackeen, uma velha cigana lê a mão de uma menina de 12 anos e vai-lhe dando conselhos para a vida. A câmara salta sucessivamente das mãos para a rapariga e para a velha, usando a técnica do campo/contracampo que inequivocamente assinala uma construção típica da ficção, pela repetição da cena em vários
takes.
Outro exemplo é o filme
Coming Apart, onde entrei desprevenida e sem saber bem ao que ia. O filme era tão extraordinariamente espontâneo e tosco que parecia um documentário puro e duro; por outro lado, era tão íntimo, como nenhum documentário consegue ser, que me questionei todo o tempo se seria possível que fosse verdade. Afinal, era um tão perfeito
fake de documentário que chegava a ser inacreditável.
Para aferir da veracidade ou verosimilhança destes filmes, usei apenas elementos intrínsecos à obra. E se me equivoquei foi porque, neste último caso, o realizador optou por uma estratégia ilusionista comparável à de Orson Welles em
F for Fake. A diferença entre eles é que Welles jogou com a credulidade adormecida do espectador, e Milton Moses Ginsberg apostou na sua perspicácia.
No
Movimentos Perpétuos de Edgar Pêra, também é fácil distinguir em que medida a música e a voz de Carlos Paredes são originais, fiéis e verdadeiras e até onde vai a manipulação pontual; assim como é fácil ver que as imagens captadas nas ruas são na origem documentais, enquanto a sua articulação/montagem vai bem mais além do ficcional – da história reinventada – e chega ao cúmulo de uma criação autónoma para lá de dicotomias realistas.
Em resumo: as discussões genéricas sobre as diferenças entre documentário e ficção parecem-me improdutivas, a não ser que nos centremos em casos específicos e os olhemos em termos relativos; a distinção, entre o que em cada caso é documental ou ficcional, é intrínseca aos próprios filmes e pode ser identificada sem recurso a informações anexas, a não ser em casos excepcionais, aqueles que procuram deliberadamente confundir o espectador ou que jogam no fio da navalha dos registos; essa distinção decorre da
praxis do filme e pode ser lida ao nível da origem da imagem (a captação) e no plano das intenções autorais, que se define geralmente através da montagem (a construção).
(1) “O Documentário como género cinematográfico” foi o mote para o debate (realizado no Teatro Rivoli na 3ª Mostra Internacional de Escolas de Cinema organizada pela ESAP) em que participei junto com Manuela Penafria, Jorge Campos e José Alberto Pinto.
(2) “Le documentaire n’est pas un genre”, diz Guy Gauthier (1995), Le documentaire un autre cinéma, Armand Colin, 2005, p.11
(3) cf. Noel Carrol (1997), “Ficção, não-ficção e o cinema da asserção pressuposta: uma análise conceitual” in Ramos, Fernão Pessoa (org.) Teoria Contemporânea do Cinema – Vol II – Documentário e narratividade ficcional, São Paulo, Ed. Senac, 2005.
(4) Como li algures e hei-de voltar a encontrar a referência...